
Um remake que não é redundante, “A Cor Púrpura” (2023) traz pulsando em seu âmago o “yearning” de que fala bell hooks

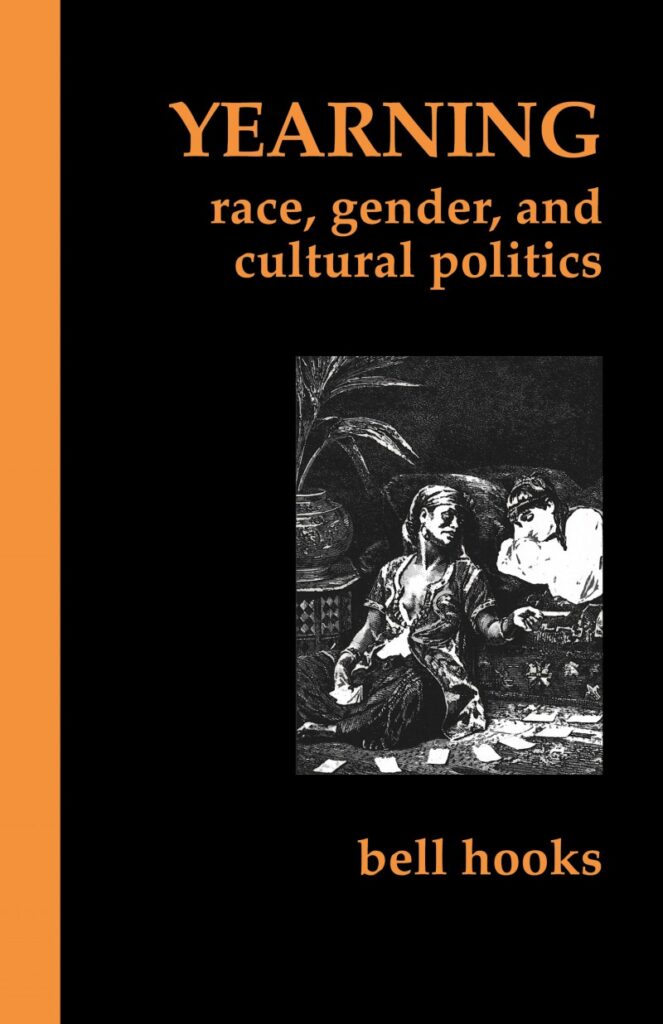
YEARNING. Saí do cinema após a projeção de “A Cor Púrpura” (2023, dirigido por Blitz the Ambassador) com esta palavra – alçada ao nível de potente conceito por Bell Hooks – na cabeça. Acho que é a melhor chave verbal para destravar o porquê deste ser um remake que não é uma redundância.
Spielberg já havia filmado em 1985, aliás brilhantemente, o consagrado romance de Alice Walker (vencedor do Pulitzer); re-filmá-lo igualzinho seria redundante (o que ocorreu, por exemplo, quando Gus Van Sant resolveu refazer o Psicose de Hitchcock quadro-a-quadro).
A escolha por um filme musical espetaculoso, muito bem cantado, dançado e coreografado, com uma vibe Beyonçante, pós-Black Is King (obra também co-dirigida pelo Blitz, cineasta e rapper oriundo de Gana), que serve como álbum visual para a exuberância afrofuturista e afrocêntrica de uma Beyoncé exagerada e hiperbólica, pareceu-me acertada.
Pois a música quase non-stop, produzida com um esmero digno de Quincy Jones, transmite bem o yearning, esta força psíquica ou anímica que as mulheres negras que forjaram o feminismo intersecional, como Hooks, Audre Lorde ou Kimberly Crenshaw, gostam de utilizar, fugindo do latinismo de Spinoza e seu conatus, escapando dos labirintos de elitismo vienense que talvez possa haver na libido de Freud.
Yearning é do campo semântico do desejo, da vontade, ou mesmo do tesão (num sentido ampliado, erótico e além); o yearning é a um só tempo visceral e espiritual – it’s a bodily-spiritual-yearning. Uma ânsia psicossomática que toma o corpo e se expressa sobretudo através da dança e da música, e que serve para dar nome àquele X misterioso, àquela incógnita intrigante, que havia na voz de Aretha Franklin, ou de Sarah Vaughan, ou de Nina Simone, ou da Bessie Smith...
Tá aqui, neste filme grandioso, o yearning que perpassa o blues, o gospel, o folk, o soul, que expressa pelo canto e pelo movimento rítmico dos corpos um desejo intenso de fim-da-opressão e de uma vida melhor a ser conquistada a duras penas. Yearning for deliverance. Este é o pathos dominante deste filme certamente melodramático e espetaculoso, que vai vender muito ingresso, mas que não deve ser desqualificado apenas como um caça-níqueis requentando um clássico dos eighties.
Em seu cerne, o filme carrega a irmandade que este yearning compartilhado forja. Irmãs para além do sangue encenam a utopia de uma sisterhood que faz cair muitas das grades do racismo e da dominação masculina, ainda que sempre a duras penas, após muitos martírios. Sisterhood é uma palavra que eu prefiro à “sororidade” (que vem do francês soeur).
Nellie e Celie, as irmãs no centro da trama, separadas por um Oceano, encenam a sisterhood-de-sangue, o yearning por um reencontro entre a irmã que ficou nos EUA e a irmã que migrou para a África. Mas as sistas aqui não precisam de laços de sangue, sua solidariedade é mais ampla que isto. Alice Walker constrói seu livro embarcada na tradição do romance epistolar mas de algum modo o revolucionando através de sua reflexão subterrânea sobre literacy e comunicação à distância entre aqueles que foram separados por vários tipos de catastróficas diásporas.


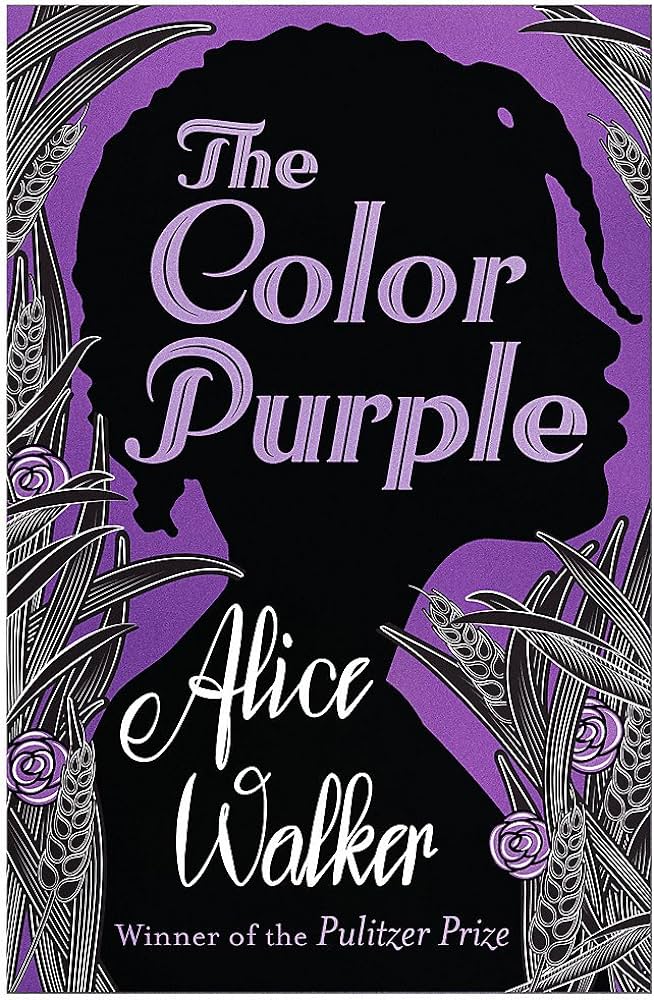
A cena em que Celie rompe com décadas de opressão sob as botas e barbas do Mr. Maridão é um ápice nos dois filmes. É o yearning no momento em que cessa de ser ânsia subjetiva e torna-se ímpeto para a ação. Eis o som que fazem correntes de quebrando.
O reencontro das irmãs é mão cheia para um happy end bem tear jerker, pra deixar as poltronas dos cinemas úmidas após a projeção duma pá de projéteis líquidos caídos de olhos humanos. Não cheguei a tanto – o filme não foi bem sucedido em me levar às lágrimas – mas é inegável a capacidade de emocionamento que a obra tem.
A brutalidade masculina aqui, em virtude de uma sisterhood coletiva, é posta em seu lugar: como na cena músical do “hell no!”, ícone de um empowerment que não vem sem backlash.
Em uma cena terrível de assistir, a mulher branca privilegiada que é esposa do prefeito interpela a mulher negra na rua: “vem trabalhar pra mim, neguinha; os pretos me adoram; eu preciso de uma maid!”; altiva, a mulher negra retruca “hell no!”, e as consequências são imediatas: espancamento, aprisionamento, e libertação alguns anos depois. Tudo por causa de um “hell no!” enraizado num yearning de não viver submetida à opressão mandonista da patroa e ao trabalho doméstico pesado e mal-pago.

A Cor Púrpura é vastamente considerado um livro – e agora dois filmes – icônico do que hoje chamamos de feminismo negro, campo responsável pela melhor formulação da teoria e práxis da intersecionalidade. Este conceito pode soar muito abstrato pra muitos de nós e o valor desta obra-de-arte também está em dar concretude a ele através de uma narrativa e de uma interação entre personagens que ensinam, por exemplo, que o homem negro pode ser vítima da opressão racista de um regime de supremacia branca e ao mesmo tempo ser o agressor machista-sexista de sua esposa em seu lar.
Ou que a mulher branca por ser vítima de algo similar – a dominância masculina – em sua relação conjugal, mas que pode ser perpetradora de racismo e de classismo sobre as “mulheres-de-cor”. Na complexidade das interseções entre classe, raça e gênero a mesma pessoa pode ser opressor de uns e oprimido por outros.
Mostra também que o caminho para o empoderamento da mulher negra é um calvário bem mais dificultoso do que é o costumeiro para a ascensão social das pessoas-sem-cor (rs) e que um meio potente para esta subida é justamente a expressão artística, na confluência entre dança, música e performance teatral. Ainda que isto nos coloque sob o risco de captura pela armadilha meritocrática (Beyoncé mereceu, Janelle Monae mereceu… Mas milhões de garotas negras não foram suficientemente meritórias para se tornarem estrelas doa star systems da indústria do entretenimento…).
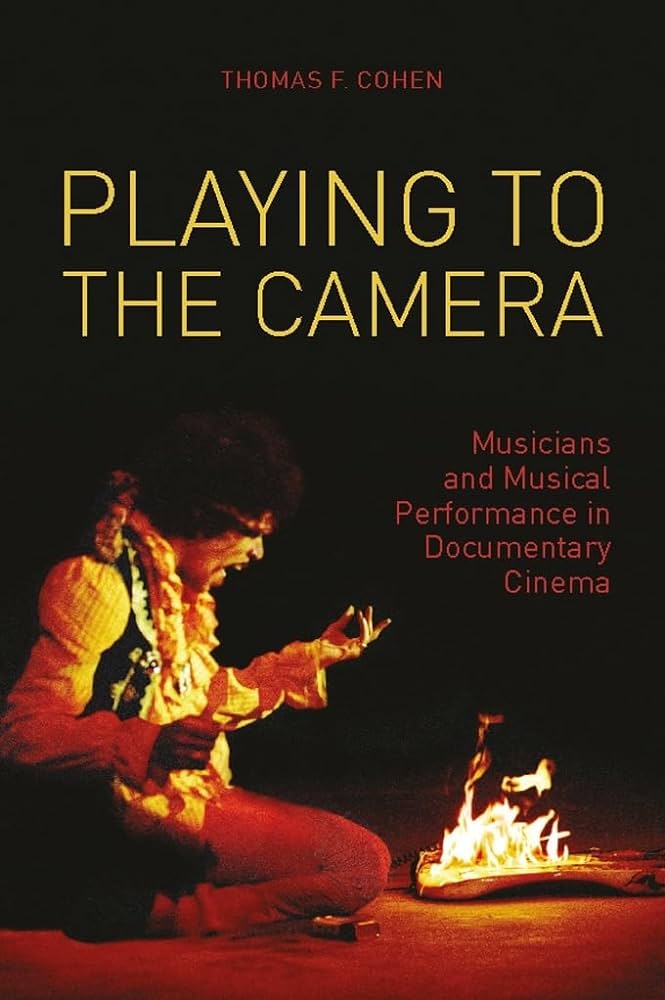
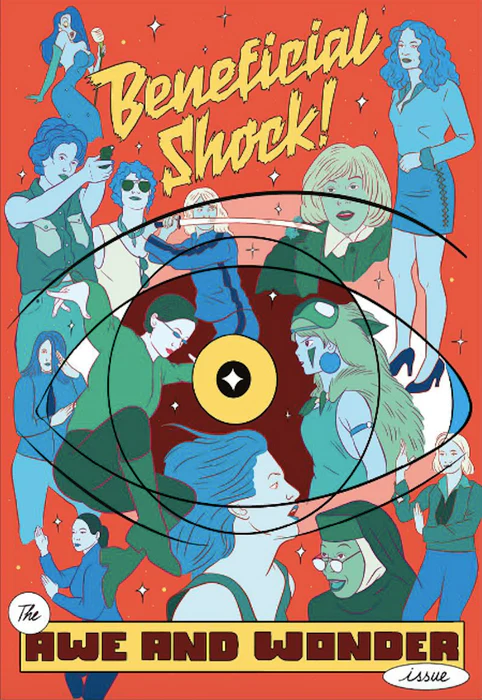
Li recentemente, na edição #8 da revista Beneficial Shock!, um artigo muito interessante escrito por Neil Fox sobre filmes que capturam performances de música ao vivo onde Aretha Franklin é destacada por sua magnética presença em Amazing Grace (2018), documentário sobre duas apresentações da artista em uma igreja de Los Angelas em 1970, e que “captura a artista no cume de seus poderes e em total comando de seu instrumento, a voz”, “causando perplexidade (awe) na audiência cinemática, que não pode acreditar que um ser humano é capaz de emitir estes sons e parecendo fazê-lo tão sem esforço.” (p. 56)
O artigo, baseado em parte nas reflexões de Thomas F. Cohen em Playing To The Camera: Musicians and Musical Performance in Documentary Cinema, acorreu-me à memória pois A Cor Púrpura evoca de algum modo este awe que Neil Fox menciona como reação estética mais comum diante da extraordinária Aretha.
Em uma das canções mais célebres da história da música gravada no século 20, Aretha Franklin criou um monumento sonoro ao respeito devido à mulher negra – é o mínimo que se espera. Mas ainda é pouco.
Diante do feminismo negro e suas valiosas contribuições tanto teóricas como práticas, diante da produção artístico-cultural da vasta e diversa comunidade afrodiaspórica, e diante de invenções estéticas fenomenaia como o afrofuturismo, o mínimo que se espera de um ser humano minimamente lúcido é respeito – mas diante dos fenômenos supracitados já estou no nível da reverência e da celebração.
Reverência às mestras do empoderamento, celebração deste insaciável yearning que impele a desmantelar as opressões multiformes que atulham a Terra. Com a possibilidade de que o trágico seja confrontado até mesmo com um espírito joyful pois a música e a dança conduzem a catarse-do-terror-vivido a ocorrer em um círculo de irmandade.
No cerne do yearning – um conceito também desenvolvido por Isabelle Stengers e Phillipe Pignarre em A Feitiçaria Capitalista (e como resistir a ela) – pulsa também esta ânsia do Ubuntu para que estejamos partícipes-de-um-círculo (e não de uma hierárquica pirâmide), reunidos em torno de um venerável árvore capaz de viver mais anos do que uma vida humana, e que não deixaremos nenhuma motosserra aniquilar, reunidos pelo “eu sou porque nós somos”.
Yearning, Ubuntu, intersecionalidade à maneira do feminismo negro, “hell nos!” para a supremacia branca dos racistas, o domínio de classe dos capitalistas e a dominação masculina patriarcal, são elementos que usam A Cor Púrpura – em 1985, em 2023… – como veículos, como meios de transmissão e contágio, e diante disso só digo: respeito, no mínimo! Mas reverência, de preferência.
Eduardo Carli de Moraes
Amsterdam, 29-01-2024
Visto no Filmhallen
Publicado em: 29/01/24
De autoria: Eduardo Carli de Moraes





